
Por Joanna Oliveira Resende Barbosa, Izabel Guedes Nazarian e Natalia Zimmermann
Um dos temas mais importantes para área de Wealth Planning em 2021, talvez o mais relevante do ano, foi o aguardado julgamento do Recurso Extraordinário n° 851.108 SP [1], de relatoria do ilustre ministro Dias Toffoli, no qual se discutiu a competência dos estados para regular e cobrar o ITCMD sobre heranças e doações recebidas do exterior, sem a prévia regulamentação da matéria por meio da edição de lei complementar pelo Congresso Nacional.
A relevância do tema se deve à situação cada vez mais frequente de brasileiros que se mudam para o exterior, bem como a utilização de veículos fora do Brasil para diversificação dos investimentos, proteção cambial, mitigação de risco político e econômico e, também, otimização da sucessão nas famílias multijurisdicioanais.
No início do ano, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cobrança do ITCMD enquanto não houver lei complementar regulando a matéria nas hipóteses de: 1) transmissões em que o doador é residente/domiciliado no exterior; ou, ainda, 2) quando o falecido possuía bens, era residente/domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior.
Sobre o tema, vale esclarecer que o ITCMD é um tributo de competência impositiva dos estados e do Distrito Federal e tem sua previsão legal no artigo155, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
No que se refere especificamente ao ITCMD sobre bens situados no exterior, o supracitado artigo estabelece como pré-requisito para que os estados e o Distrito Federal possam tributar esse patrimônio a edição, pelo Congresso Nacional, de lei complementar, conforme se verifica em seu parágrafo primeiro, III, alínea "b". Leia-se:
"Artigo 155 — Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I — transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(...) §1.º O imposto previsto no inciso I:
I — relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II — relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III — terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal".
Contudo, em que pese até o momento não tenha sido editada nenhuma lei complementar sobre o tema, muitos entes federativos [2] (entre eles o estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual nº 10.705/00, artigo 4º, inciso II, alínea "b" [3]), estabeleceram nas respectivas legislações que o ITCMD será exigível nas transmissões por doação, quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas transmissões causa mortis quando houver bens localizados no exterior, quando o de cujus era residente ou domiciliado no exterior ou caso o inventário tenha sido processado no exterior.
Diante desse cenário, diversos contribuintes passaram a ajuizar as medidas judiciais cabíveis no sentido de ver reconhecida a inconstitucionalidade de referidas leis ordinárias estaduais, sob a alegação de que estariam elas ferindo diretamente a competência exclusiva da União e reserva material de lei complementar.
As reiteradas controvérsias sobre esse mesmo assunto fizeram com que, em meados de 2015, o Plenário do STF definisse como tema de repercussão geral a incompetência legislativa dos estados para instituírem, sem lei complementar, o ITCMD sobre doações recebidas de residente fiscal no exterior e de heranças percebidas nos casos em que o de cujus possuía bens, era residente/domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior (Tema 825), escolhendo como paradigma o Recurso Extraordinário nº 851.108, de relatoria do ministro Dias Toffoli.
Com o julgamento do recurso extraordinário em questão, restou sedimentado o entendimento que reconhece a inconstitucionalidade da cobrança de ITCMD nas situações em que a Constituição Federal exige lei complementar para tanto, lei essa que ainda não foi editada pelo Congresso Nacional [4] .
Sendo assim, a mais alta corte brasileira, em nossa visão, reconheceu a prevalência dos direitos assegurados pela Constituição Federal em detrimento dos interesses arrecadatórios dos estados, fixando a seguinte tese para a repercussão geral do Tema nº 825: "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, §1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional".
Na sequência, o STF modulou os efeitos da decisão aos contribuintes, de modo que ela somente será aplicada aos fatos geradores posteriores à publicação do acórdão e às ações judiciais pendentes de conclusão até tal data. Referida modulação foi provida pela maioria do plenário, tendo um placar final de dez votos favoráveis aos efeitos ex nunc e apenas o ministro Marco Aurélio contrário.
Para tanto, o relator (ministro Dias Toffoli) modificou seu voto para aderir ao entendimento proferido pelo ilustre ministro Roberto Barroso no que se refere ao trecho abaixo:
"(...) 8. Os embargos do contribuinte discutem a modulação de efeitos da decisão realizada no julgamento. Como visto, o ministro relator, Dias Toffoli, votou para dar parcial provimento ao recurso para esclarecer que as exceções à eficácia ex nunc são alternativas, e não cumulativas. Estou de acordo com esse ponto do voto do eminente Relator, mas proponho também que se esclareçam dois outros aspectos suscitados nos embargos de declaração, a fim de evitar litigiosidade desnecessária. São eles: (a) se o Fisco pode cobrar o ITCMD relativo a fatos geradores anteriores à data de publicação do acórdão; e (b) se o contribuinte que ajuizou ação antes desse marco temporal pode ou não obter a restituição do tributo" [5].
Assim, com a redação final do acórdão, os contribuintes que possuem ações judiciais em curso e que não tenham efetuado o pagamento do imposto relativamente aos fatos geradores passados poderão beneficiar-se do entendimento, caso tenham ajuizado a competente demanda questionando a legalidade da cobrança ou a competência dos entes estaduais até a data da publicação do acórdão, que se deu em 20 de abril deste ano.
Ademais, a respeito da discussão acerca da tributação sobre transmissões a título gratuito (sucessões e doações) e os elementos de conexão desse imposto, vale destacarmos a doutrina do jurista Alberto Xavier, que aponta a existência do confronto de dois princípios fundamentais, conforme a relevância do elemento de conexão adotado, verbis:
"O princípio do domicílio, segundo o qual o Estado teria o poder de tributar a totalidade das transmissões patrimoniais efetuadas por pessoas nele residentes (domicílio do de cujus ou do doador) ou efetuadas em favor de beneficiários nele residentes (domicílio do beneficiário), independentemente do território em que localizam os bens ou direitos objeto da transmissão; e o princípio do locus rei sitae, segundo o qual o Estado teria o poder de tributar exclusivamente as transmissões patrimoniais relativas a bens e direitos localizados no seu território, sendo irrelevante o domicílio do transmitente ou do beneficiário.
O princípio do domicílio conduz, quanto à extensão da obrigação de imposto, ao princípio da universalidade, ou da tributabilidade ilimitada, abrangendo portanto bens e direitos situados no exterior; ao invés, o princípio do locus rei sitae conduz a um princípio da territorialidade (em sentido estrito) ou da tributabilidade limitada, restringindo os poderes tributários dos Estados aos bens e direitos localizados no seu território.
A verdade, porém, é que na época atual a generalidade dos Estados adota complexos sistemas em que se incorporam regras inspiradas em ambos os princípios" [6].
No que se refere aos elementos de conexão para aplicação do imposto em território nacional, a Constituição Federal disciplina a tributação de acordo com a espécie do bem. Sendo esse bem imóvel, a competência será do Estado em que este está localizado; se bem móvel, a competência será do Estado em que se processar o inventário ou que o doador possuir domicílio.
Em se tratando de bens situados em local diferente do domicílio do doador, sejam qualquer destes localizados no exterior, estaríamos diante de elemento de conexão relevante com o exterior, podendo haver concorrência entre as unidades federativas distintas.
Já nas hipóteses em que o doador é residente no Brasil e o bem objeto da liberalidade está situado em território nacional, não há o que se discutir, tendo em vista que não há divergência sobre a competência interestadual ou estrangeira.
Necessário analisar, ainda, um possível nexo causal entre o donatário residente fiscal no Brasil recebendo bens advindos do exterior. Tendo essa hipótese sido o cerne do recurso extraordinário, temos que a incidência do imposto é afastada até que seja publicada lei complementar que estabeleça o vínculo tributário.
Pelo exposto, verificamos que o julgamento ora analisado — ainda que não esteja imune a críticas ou vícios de omissão — representa importantíssimo avanço em matéria de segurança jurídica e norteador interpretativo no que se refere à legislação tributária pátria.
Ressalta-se que eventuais leis complementares a serem editadas pelo ente federativo deverão propiciar entendimento sobre as lacunas deixadas pela repercussão geral (Tema 825).
Além disso, no que se refere ao planejamento patrimonial e sucessório dos brasileiros, é tema de extrema relevância, seja porque há um número grande de nacionais com residência no exterior, seja pela crescente quantidade de brasileiros que se utilizam de estruturas externas para alocação para gestão e resguardo patrimonial.
________________
[1] Para consulta, verificar: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur444598/false
[2] Atualmente 22 das 27 entidades federativas do Brasil, incluindo o Distrito Federal, regulam a matéria.
[3] "Artigo 4º — O imposto é devido nas hipóteses abaixo especificadas, sempre que o doador residir ou tiver domicílio no exterior, e, no caso de morte, se o de cujus possuía bens, era residente ou teve seu inventário processado fora do país:
I - sendo corpóreo o bem transmitido:
(...) b) quando se encontrar no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado;
II - sendo incorpóreo o bem transmitido:
(...) b) quando o ato referido na alínea anterior ocorrer no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado".
[4] Vale esclarecer que existe Projeto de Lei (PL n° 432/2017) em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal para regulamentação da competência da instituição do imposto nas situações em que 1) o doador tiver domicílio no exterior; 2) o de cujus tinha domicílio no exterior; ou 3) o inventário foi processado no exterior (inciso III do § 1º do artigo 155 da CF). Para consulta: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131473
[5] STF |EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 851.108 SÃO PAULO. Voto Vista do Ministro Roberto Barroso — página 7.
[6] XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 6ª edição Reformulada e atualizada Editora Forense. Rio de Janeiro, 2005, páginas 260 e 261
Joanna Oliveira Resende Barbosa é sócia da área de Wealth Planning do Velloza Advogados.
Izabel Guedes Nazarian é advogada sênior da equipe de Wealth Planning do Velloza.
Natalia Zimmermann é sócia da área de Wealth Planning do Velloza Advogados.
Fonte: Conjur
Leia mais...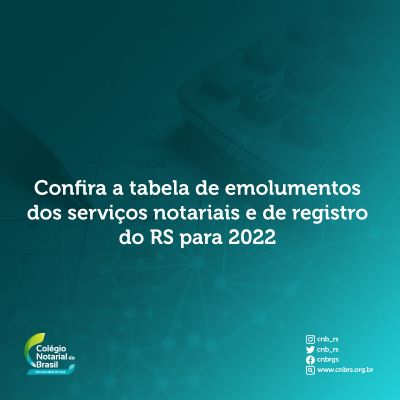
Clique aqui e confira a íntegra do documento.
Fonte: TJRS
Leia mais...
Por Carolina Dumet
Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), porém, a transexualidade só deixou de ser vista como doença pela OMS em 2018. Além disso, até os dias atuais, cerca de 70 países ainda tipificam orientações sexuais não heterossexuais, e identidades de gênero não cisgêneras, como crime [1].
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, passou a equiparar as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres em 2011, e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu, através da Resolução nº 175 [2], que casais do mesmo sexo teriam direito ao casamento civil e à conversão de união estável em civil, e que tabeliões e juízes são proibidos de se recusar a registrar essa união.
No ano de 2019 ocorreu — tardiamente, já que pessoas LGBTQIA+ sempre existiram — mais um avanço em relação à proteção dessa parcela da população brasileira. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26 (ação julgada conjuntamente ao MI 4733), reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional ao não editar lei que criminalizasse atos homofóbicos e transfóbicos [3]. Por conta disso, as condutas de homofobia e transfobia, envolvendo "aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero" [4] são enquadradas como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/89), até que o Congresso edite lei sobre a matéria, o que até os dias atuas, não foi feito.
Em seu voto, o relator ressaltou o dever do Estado em atuar na defesa da dignidade da pessoa humana e a vedação a comportamentos que possam gerar tratamentos discriminatórios fundados em inadmissíveis visões excludentes [5]. Assim, depreende-se que há necessidade de mudança nos procedimentos adotados pelo ordenamento, que possam sustentar quaisquer formas de preconceito.
Quanto a isso, desde 2011 existe um projeto de lei (PL), atualmente arquivado, que visa a permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A PL nº 612/2011 [6], de autoria da senadora Marta Suplicy, na época do Partido dos Trabalhadores (PT). O projeto altera os artigos 1723 e 1726 do Código Civil retirando os termos "marido e mulher" e inserindo a expressão "entre duas pessoas".
Tendo sido estabelecido esse panorama, passa-se a analisar o artigo 1.535 do Código Civil. A referida norma preceitua que na celebração do casamento, após a declaração dos nubentes de que pretendem se casar por livre e espontânea vontade, o presidente do ato declarará efetuado o casamento nos termos: "De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados" [7].
Observa-se que, apesar de desde 2013 o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ser autorizado no Brasil, não basta que se possa celebrar um casamento homoafetivo se a identidade de gênero dos nubentes é totalmente negligenciada no momento da celebração, que exige que o condutor da cerimônia identifique as partes como "marido e mulher". Esse silenciamento é naturalizado na sociedade brasileira, que é heteronormativa, fundamentada em "falsos pressupostos de naturalização das práticas heterossexuais e no caráter desviante de outras práticas" [8], sendo o silêncio uma estratégia dominante de apagamento da diversidade identidades de gênero e orientações sexuais.
E o Código Civil de 2002, que surge dentro desse contexto heteronormativo e excludente, além de dispor sobre os nubentes como "marido e mulher", exige que sejam nomeados dessa forma na celebração da união. Ocorre que essa regra é nitidamente contrária ao que se buscou proteger na ADI nº 4277, na ADPF nº 132, na Resolução nº 175 do CNJ e na ADO nº 26.
Ademais, a norma contraria um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, IV, Constituição Federal [9]). Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal, em seu caput, afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, entre outros.
Além de violar o próprio ordenamento pátrio, o texto do artigo 1.535 do Código Civil vai de encontro a normas internacionais ratificadas pelo Brasil. Dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos [10], em seu artigo 1º, que os Estados-partes da convenção (que é o caso do Brasil) comprometem-se a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de qualquer outra condição social. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos [11], por sua vez, em seu artigo 2º prevê que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie.
Assim, nota-se que tratar um casal homoafetivo (ou em que um dos nubentes é uma pessoa não binária) como "marido e mulher" é violentar aquela construção familiar num dos momentos mais importantes da vida dos sujeitos, violando o direito pátrio e o direito internacional.
Recentemente, a necessidade de uma alteração na legislação, retirando a declaração dos casados como "marido e mulher" do artigo 1535 do Código Civil, foi reconhecida. A deputada Natália Bonavides apresentou em 11 de novembro o Projeto de Lei registrado sob o nº 4004/2021, que propõe alterar o artigo 1535 do Código Civil para:
"Artigo 1535 — Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, a presidência do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos: 'De acordo com a vontade que acabam de declarar perante mim, eu, em nome da lei, declaro firmado o casamento"' [12] .
Em sua justificativa, afirma que não basta ser reconhecido o direito ao casamento se não houver a adequação da cerimônia:
"A realização de casamentos com termos que violam a dignidade de casais milita em sentido contrário ao estabelecido na Constituição, o que exige uma modificação legislativa para adequar o Código Civil e a cerimônia de casamento à realidade e à jurisprudência do STF" [13].
Caso seja aprovada, a alteração significará a primeira inclusão em lei de direitos de pessoas LGBTQIA+, haja vista que, até o presente momento, os direitos dessa parcela da população só estão sendo garantidos por interpretação dos tribunais superiores, não pela própria legislação, apesar de não faltarem propostas de projetos de lei, em sua maioria, arquivadas.
[1] CASTEDO, Antía; TOMBESI, Cecilia. Mapa mostra como a homossexualidade é vista pelo mundo. BBC News Mundo, 28 jun. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48801567. Acesso em: 25 jun. 2021.
[2] CNJ. Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. [S. l.], 15 mar. 2013. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754. Acesso em: 23 jun. 2021.
[3] A relevância da ADO discutida e do presente texto é fundada nas inúmeras violências sofridas pelas pessoas LGBTQIA+. O Relatório de Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil de 2020 identificou 237 mortes violentas reportadas de indivíduos LGBTQIA+ no Brasil em 2020, e 13 casos localizados de suicídios, mas a LGBTfobia vai muito além da violência física. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas de março de 2020 a março 2021 indicaram que, apenas no estado do Amazonas, foram cometidos mais de 22,3 mil crimes conta a população LGBTQIA+, em razão de sua identidade de gênero ou orientação sexual.
[4] BRASIL. STF. ADO: 26 DF 9996923-64.2013.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/10/2020, pg. 05.
[5] BRASIL. STF. ADO: 26 DF 9996923-64.2013.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/10/2020, pg. 91.
[6] BRASIL. SENADO FEDERAL. Projeto de Lei nº 612, de 29 de setembro de 2011. Altera os artigos 1723 e 1.726 do Código Civil, para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. [S. l.], em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589. Acesso em: 23 jun. 2021.
[7] BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002.
LIONCO, Tatiana; DINIZ, Debora. Homofobia, silêncio e naturalização: por uma narrativa da diversidade sexual. Rev. psicol. polít., São Paulo, v. 8, n. 16, p. 307-324, dez. 2008. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2008000200009&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 25/06/2021, pg. 06.
[9] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
[10] BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 09 de nov. 1992.
[11] BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 22 de out. 1945.
[12] BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4004 de 11 de novembro de 2021. Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) para modificar os termos da declaração feita pela presidência da cerimônia de casamento para celebração do casamento civil, assegurando o tratamento igual entre casais. Brasília: Câmara dos Deputados, 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/12/29A7B6C6EE5B4A_PL4004correto.pdf. Acesso em: 11/12/2021.
[13] BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4004 de 11 de novembro de 2021. Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) para modificar os termos da declaração feita pela presidência da cerimônia de casamento para celebração do casamento civil, assegurando o tratamento igual entre casais. Brasília: Câmara dos Deputados, 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/12/29A7B6C6EE5B4A_PL4004correto.pdf. Acesso em: 11/12/2021.
Carolina Dumet é estudante de Direito da Faculdade de Direito da UFBa, secretária-geral e diretora de eventos do Instituto Baiano de Direito e Feminismos (IBADFEM).
Fonte: Conjur
Leia mais...CNB-RS participa de projeto de responsabilidade
social das atividades extrajudiciais do RS, em convênio com Fundação Semear


Em um dos primeiros entendimentos neste sentido no país, um homem conseguiu autorização do Poder Judiciário de São Paulo para a realização de inventário extrajudicial mesmo com filhos menores de idade. Conforme a sentença da 2ª Vara da Família e das Sucessões, da Comarca de Taubaté, a partilha será estabelecida de forma ideal, sem nenhum tipo de alteração do pagamento dos quinhões hereditários, não havendo risco de prejuízo aos menores envolvidos.
No caso dos autos, a falecida deixou o cônjuge e dois filhos. Atualmente, não é possível realizar inventário em cartório em casos que envolvem filhos menores, pessoas incapazes ou conflito de interesses.
“Esse é um grande passo de melhoria da prestação de serviço público encampado no fenômeno da extrajudicialização que vai fazer com que se possa entregar para a sociedade uma prestação de serviço público eficiente”, avalia o notário Thomas Nosh Gonçalves, membro do IBDFAM cujo artigo foi citado na sentença. Confira a íntegra do texto no portal do Instituto.
Para o especialista, o entendimento é disruptivo e representa um verdadeiro rompimento de paradigmas. “A despeito de o Código de Processo Civil – CPC vedar o inventário com incapaz pela proteção e pelo papel fundamental do Ministério Público na tutela dos menores, em nada desrespeita o mandamento do CPC.”
Exigências legais
Segundo Thomas, o que ocorre é algo similar aos provimentos administrativos, já existentes em quase todos os estados brasileiros, na medida em que autorizam lavratura de inventários extrajudiciais mesmo com testamento. “Poucas unidades federativas ainda não possuem essa previsão administrativa da possibilidade de lavratura com testamento no extrajudicial.”
“O Código de Processo Civil veda também o inventário extrajudicial quando há testamento. Os provimentos versam sobre a possibilidade de uma ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, para que por meio da intervenção do Poder Judiciário ocorra a autorização da lavratura do ato no extrajudicial. É deflagrado uma ação no judiciário, e é emitido um alvará autorizando a lavratura extrajudicial, mesmo contendo testamento”, explica Thomas. Essa matéria foi objeto do Resp 1.808.767 STJ – 15/10/19 na qual a 4º Turma de forma unânime admitiu a possibilidade.
O notário observa que, a despeito de ter menores, o extrajudicial tem sim a competência e capacidade para instrumentalizar esses atos. O que ocorre é a “deflagração de uma ação jurisdicional na qual o juiz verifica e permite a lavratura, desde que seja igualitária a partilha e o pagamento, e que não haja nenhum tipo de reposição ou alteração, conforme o princípio da saisine”.
Ele complementa: “Posteriormente, atendidas todas as exigências legais, ainda é encaminhado para o magistrado, para que dentro dos seus planos de cognição ali ele possa efetivamente aferir que foi respeitado e está tudo de acordo com o arquétipo legal, sem prejuízo ainda da fiscalização do Ministério Público.”
Nosh esclarece ainda que o fenômeno da extrajudicialização facilita e corrobora sobremaneira com os dados que hoje são disponibilizados de economia do erário. “Desde a Lei 11.441/2007, que alçou a possibilidade de lavratura de inventários, partilhas, divórcios pelo tabelionato de notas, houve uma economia gigantesca.”
“A ideia não é eliminar a atuação do Ministério Público, muito menos do juiz, mas possibilitar que eles possam trabalhar nos atos que tenham efetivamente a necessidade de avaliação e análise do caso concreto, e quando há litígio. Nestes casos a ideia é mais homologatória”, pondera.
Por fim, o especialista destaca o recente avanço no Estado do Acre, por meio da publicação da Portaria 5914-12 de 8 de setembro de 2021, que dispôs sobre a realização de inventário extrajudicial, em tabelionato de notas, quando houver herdeiros interessados incapazes. No próprio considerando da Portaria, foi mencionado o teor doutrinário dos autores, José Luiz Germano, José Renato Nalini e Thomas Nosch Gonçalves. Aqui já evoluindo a intervenção judicial jurisdicional prévia, para intervenção judicial administrativa, devendo ser apresentada minuta previamente submetida à aprovação da vara, antecedida do MP, visando a devida proteção dos incapazes – com uma verdadeira natureza de pedido de providência.
“Vamos avançar ainda mais com a extrajudicialização e o apoio ao Judiciário, sem perder a necessária imprescindibilidade da advocacia”, garante Thomas Nosch.
Fonte: IBDFAM
Leia mais...